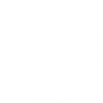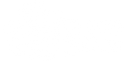- há 6 dias
- 3 min de leitura

Alessandra Tavares
O que conhecemos por educação formal nos dias de hoje é resultado de muitos movimentos coletivos, familiares e pessoais que se materializaram nesta política pública. Como a epígrafe que abre esse texto, a educação foi por longos anos um desafio desmedido e “aprender a ler” já foi condição para a cidadania plena, inclusive condição para votar até 1985. O que me encanta nesta letra de Yáyá Massemba é a conexão profunda da cultura e história negra com a busca pela educação de forma comunitária, aprender e ensinar, os dois processos que marca o processo de educação de forma partilhada e popular.
Apesar de atualmente não considerarmos os desafios com relação ao acesso à educação como prioritário, vivemos num país em que 46% da população com mais de 25 anos não concluiu a escolaridade básica e temos a 9,3 milhões de brasileiros analfabetos[1]. Aprender a ler e ensinar os camaradas faz sentido no Brasil do século XXI.
O direito pleno à educação não nos foi reservada historicamente. Digo, nós pela natureza desta publicação, que apesar de abrir horizontes e ganhar espaços, nasce essencialmente dentro do território do Jardim Ibirapuera, ou seja, nós a população pobre e negra da periferia sul da Cidade de São Paulo. Eu parto da premissa que o acesso à educação de qualidade foi e continua sendo um projeto popular e negro. A luta do clube de mães por creche é muito conhecida, contudo, durante os anos 70 e 80, existiu um protagonismo muito grande das mulheres na luta por escolas na zona sul[2]. Para além das condições de trabalho, muitas vezes evidenciada neste movimento social, o movimento em torno de creches e escolas, está atrelado ao reconhecimento da importância da educação e das possibilidades que esta permitia.
Esse reconhecimento aparece também nos relatos das mulheres filhas de empregadas domésticas, como eu, nascidas neste período que incorpora desde a advertência que “estude, para não limpar a privada de ninguém”, ou até mesmo, “estude e não dependa de ninguém”, até trazer para casa livros, jornais e revistas da casa da “patroa” para nutrir suas casas de palavras. As estratégias são inúmeras, lembro recentemente de escutar de uma grande pesquisadora da literatura que sua mãe a levava ao trabalho quando ela tinha 7 anos.
Enquanto sua mãe trabalhava, a filha ficava mexendo nos livros da patroa, curiosa, tentando entender os milhares de códigos e escritas do direito, e que a patroa sempre advertia: “você precisa colocar sua filha para aprender a trabalhar. Ela precisa te ajudar e não ficar aí sem fazer nada. Ela vai sofrer muito”. Ela era uma criança negra de 7 anos!
O espaço e a intenção deste ensaio não nos permite avançar muito nas evidências da luta constante da população pobre e negra por educação. Nilma Lino Gomes em “O Movimento Negro Educador: Saberes construídos na luta por emancipação” enriquece esse debate a partir das contribuições para educação formal e comunitária dos movimentos negros. Antes de partirmos para olhar a escola, os profissionais e os desafios educação que temos nos dias atuais precisamos retomar brevemente nossa história contemporânea, afinal, “viver sem conhecer o passado, é viver no escuro.”[3]
O direito à educação no Brasil é limitado e recente. O direito é garantido apenas para o ciclo básico, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, e o acesso ao ensino superior ainda não está garantido para todas e todos os brasileiros. Apesar de legislações anteriores, o direito à educação básica passou a ser garantido somente em 1988, a partir do Artigo 205 Constituição Federal.
Somente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que o modelo e o funcionamento da educação ganharam formato de lei com alterações importantes em 2008 e 2023.
Apesar de todo aparato legislativo nos anos 90, as escolas não se materializaram como mágica. Aqueles que têm 40 anos ou mais certamente vão se lembrar das enormes filas, que duravam dias, para conseguir uma vaga nas escolas da zona sul no final dos anos 90, principalmente, acesso ao que conhecemos hoje como ensino médio. O que quero salientar com esse histórico é que a construção da educação pública e gratuita, que muitas vezes aparece como um grande desafio e que a educação do passado era muito melhor, estamos falando de um tempo e lugar excludente e reservava para poucos o direito pleno ao espaço escolar. Os desafios que temos hoje, são os desafios próprios da democracia.